
As Mães São Sempre as Culpadas?
“As Mães São Sempre as Culpadas”. Mito ou realidade?
O que é que o mito da mãe esquizofrenogénica nos impede de tentar compreender?
Nenhum relato da história da psiquiatria do século XX está completo sem uma discussão sobre a “mãe esquizofrenogénica”, uma invenção sinistra da saída da imaginação dos psiquiatras misóginos.
A “mãe esquizofrenogénica”, como referem, foi considerada a única responsável pela génese do sofrimento rotulado como “esquizofrenia” nos seus filhos.
Como Allan F. Mirsky e colegas observaram num artigo sobre as Irmãs Genain, “Os anos 50 foram a era em que o conceito de ‘mãe esquizofrenogénica’ foi amplamente aceite.
No livro “Mística Feminina”, Betty Friedan referiu:
“De repente, descobriu-se que a mãe podia ser responsabilizada por quase tudo.
Em todos os casos de crianças perturbadas, mas também de adultos alcoólicos, suicidas, esquizofrénicos, psicopatas, neuróticos; na homossexualidade masculina, impotência; promiscuidade feminina, frigidez; asma, e em todas as perturbações dos americanos, poderia ser encontrada uma mãe…
Claramente, algo estava ‘errado’ com as mulheres americanas.”
Este culpar da mãe é frequente na literatura psiquiátrica de meados do século, como escreveu a psicóloga Stella Chess em 1965:
“O procedimento padrão é assumir que o problema da criança é reactivo (à relação com a mãe) ao contacto materno num relacionamento individual.
Situações particulares que se encaixam nestas especulações são citadas como típicas dos sentimentos da criança e das atitudes da mãe, e são tomadas como prova da universalidade da tese das atitudes maternas nocivas.”
Ou como John Neill, MD, observou uma geração depois:
“Tornou-se prática comum acreditar que as mães eram a causa da psicose dos seus filhos.”
Mas será que os psiquiatras realmente “culparam a mãe” com exclusão de todas as outras causas? De onde veio essa noção?
O conceito de mãe esquizofrenogénica não era suficiente para explicar a génese da esquizofrenia
Como na maioria dos mitos, o mito do foco da psiquiatria na mãe esquizofrenogénica tem um fundo de verdade.
Num artigo de 1948, a psiquiatra alemã Frieda Fromm-Reichmann escreveu:
“O esquizofrénico é dolorosamente desconfiado e ressentido com as outras pessoas, devido à severa manipulação e rejeição que encontrou nas pessoas importantes da sua infância e juventude, como regra, principalmente uma mãe esquizofrenogénica.”
A Dra. Fromm-Reichmann era uma psicanalista famosa pela sua compaixão e habilidade em manejar até os casos mais complicados, aparentemente intratáveis de “esquizofrenia” com psicoterapia intensiva e sem medicação.
É importante referir que as observações acima foram retiradas dum artigo que nem sequer se referia directamente à etiologia da esquizofrenia, mas era dedicado quase exclusivamente à dinâmica da relação terapeuta-paciente.
A análise dos escritos dos colegas de orientação psicanalítica da Dra. Fromm-Reichmann nos anos 50 e 60 revela que desde o início eles entenderam perfeitamente que o conceito de mãe esquizofrenogénica não era suficiente para explicar a génese da esquizofrenia e que essa condição era provavelmente o resultado de famílias perturbadas, e não apenas de mães perturbadas.
Por exemplo, Trude Tietze (1949), escreveu sobre o papel do pai:
“Pouco se sabe sobre os pais de crianças esquizofrénicas. Nenhuma investigação sistemática ao pai foi realizada em conexão com o presente estudo.
No entanto foram entrevistados oito pais e a impressão era de que eles também tinham muitos problemas de personalidade. Pareciam pessoas perfeccionistas e obsessivas, tão doentes quanto as esposas.”
Da mesma forma, os psiquiatras Ruth e Theodore Lidz escreveram:
“Nos nossos dados, é visível que as influências paternas são tão nocivas quanto as maternas.”
As suas descobertas foram replicadas nos estudos de Clardy, Nuffield, Wahl, entre outros, que confirmaram o papel de todos os membros da família.
É realmente um exagero sugerir que consequências terríveis podem ocorrer quando esse relacionamento corre mal?
O psiquiatra DD Jackson achou que a esquizofrenia deveria ser estudada como uma “doença de origem familiar que envolve um ciclo complicado de vetores que vão muito para além do que pode ser conotado pelo termo ‘mãe esquizofrenogénica’.
Lidz e seus colegas concordaram, observando:
“Uma vez que os nossos estudos estavam a pôr a descoberto sérias dificuldades em quase todas as áreas nessas famílias, preferimos equilibrar o assunto, direccionando a atenção para a situação total ao invés do foco na mãe.”
De qualquer forma, a relação mãe-filho é sem dúvida o relacionamento humano mais importante que existe.
É realmente um exagero sugerir que consequências terríveis podem ocorrer quando esse relacionamento corre mal?
O artigo de Tietze, acima, discute o caso clínico de uma jovem mulher com esquizofrenia cuja mãe estava obcecada em impedir a filha de se masturbar.
Essa mulher cheirava as mãos da filha durante o dia para verificar se ela se tinha masturbado, e efectuou duas mutilações cirúrgicas no clitóris da criança; uma quando tinha um ano e outra quando ela tinha dois.
Essa mesma mãe inspeccionava a vulva da sua filha todas as noites e batia-lhe se julgasse que os lábios da vulva estavam “irritados”.
Será que as acções desta mãe tiveram algo a ver com os problemas que a filha apresentou mais tarde? Com toda a certeza.
Mas reconhecer o papel do trauma infligido pela mãe a uma determinada pessoa não é o mesmo que culpar a mãe por toda a “doença mental”.
A questão é meramente académica? Não.
Olhemos a resposta do psicólogo L. Alan Sroufe a um artigo publicado no New York Times em 2012.
É visível que as influências paternas são tão nocivas quanto as maternas
O artigo discutiu o estudo de 2009 do MTA por Brooks e colegas nos quais 600 crianças com o rótulo de diagnóstico “TDAH” (Perturbação de hiperatividade com défice de atenção) foram seguidos por oito anos, e que não encontraram benefícios a longo prazo da medicação para essa perturbação em nenhuma das vinte e quatro variáveis de resultado.
Dr. Sroufe concluiu:
“A ilusão de que os problemas de comportamento das crianças podem ser curados com drogas impede-nos como sociedade de procurar as soluções mais complexas e necessárias.
As drogas deixam toda gente – políticos, cientistas, professores e pais – livres de responsabilidades. Todos, excepto as crianças, claro.
Nem todos viram as coisas dessa maneira.
Numa resposta à opinião do Dr. Sroufe a autora Judith Warner acusou-o de querer fazer “uma viagem de volta a uma época… em que se acreditava que as crianças com doenças psiquiátricas eram vítimas de ‘mães esquizofrenogênicas tóxicas'”.
Mas nem o estudo do MTA nem o artigo do Dr. Sroufe fizeram menção às “mães esquizofrenogénicas”.
Esta tempestade num copo de água acaba por nos afastar da questão principal:
Um amplo estudo desenvolvido ao longo de vários anos não encontrou benefícios a longo prazo para o uso de poderosas drogas (dadas a milhões de crianças) que provocam alterações no cérebro.
Essas foram as conclusões que merecem uma discussão séria – e não evocações de “mães esquizofrenogénicas”.
Mais recentemente, surgiu um artigo no Washington Post descrevendo um pouco da história da Chestnut Lodge, a instituição privada no Maryland onde a Dra. Fromm-Reichmann realizou o seu trabalho inovador.
Reconhecer o papel do trauma infligido pela mãe a uma determinada pessoa não é o mesmo que culpar as mães por toda a “doença mental
O artigo foi bastante sobranceiro:
“À medida que a compreensão das causas biológicas e químicas das doenças mentais crescia, a ligação de Chestnut Lodge à psicanálise freudiana passou a parecer datado. Poderia realmente ser tratada uma psicose debilitante – e ocasionalmente perigosa – falando sobre a mãe? ”
Além do facto de que a psicoterapia não poder ser reduzida a “falar sobre a mãe”, ainda não há evidências confiáveis de uma causa química ou biológica da esquizofrenia ou de qualquer outro “distúrbio funcional” comummente tratado com drogas.
Enquanto isso, desde o tempo que Fromm-Reichmann desenvolveu o seu trabalho, uma montanha de evidências se tem acumulado, conectando a esquizofrenia ao abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, e uma grande variedade de outras categorias de experiências adversas na infância.
A correlação entre experiências adversas na infância e esquizofrenia é robusta e confiável.
Ele atravessa fronteiras nacionais, estratos sociais e etnias. Foi verificado repetidamente em estudos longitudinais, estudos transversais, e em estudos de casos.
Os autores do abuso podem ser pais, padrastos, avós, tios, irmãos mais velhos, primos, não parentes – e sim, às vezes mães.
Estes estudos também demonstraram que não existe um estilo de parentalidade especificamente ” esquizofrenogénico “.
Pelo contrário, qualquer uma das várias influências tóxicas (algumas em grande parte fora do controle dos pais, como doenças infantis ou morte de um dos pais) pode fazer com que o equilíbrio se incline para a esquizofrenia ou qualquer outra “doença mental”.
Por exemplo, um estudo descobriu que entre 45% e 60% dos pacientes diagnosticados com esquizofrenia foram sujeitos a abuso sexual na infância.
A ilusão de que os problemas de comportamento das crianças podem ser curados com drogas impede-nos como sociedade de procurar outras soluções
E, como o leitor sem dúvida já sabe, a grande maioria dos abusos sexuais na infância é perpetrada por homens, não por mulheres.
Esta é uma descoberta que deve ser recebida com alarme, e não como piada sobre “culpar a mãe”.
Mas também deve ser recebido com esperança, já que o abuso sexual infantil e outras experiências adversas na infância são problemas sobre os quais podemos agir.
O verdadeiro mito da mãe esquizofrenogénica é a ideia de que os psiquiatras sempre difundiram a ideia de que as mães são as únicas responsáveis pela esquizofrenia nos seus filhos.
E esse mito tem sido usado por muito tempo como um espantalho para desviar a atenção da discussão séria sobre o papel do abuso e do trauma na génese da esquizofrenia e de outros tipos de sofrimento mental, e para promover explicações biológicas e intervenções farmacológicas para essas condições.
É hora de acabar com esse mito de uma vez para sempre.
Traduzido/adaptado por Pedro Martins
a partir de “The Real Myth of the Schizophrenogenic Mother” – Patrick Hahn





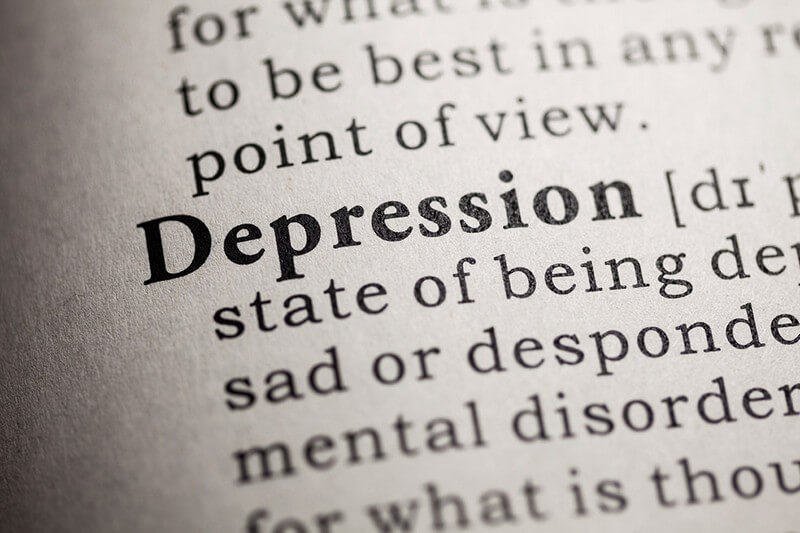











Comentários recentes